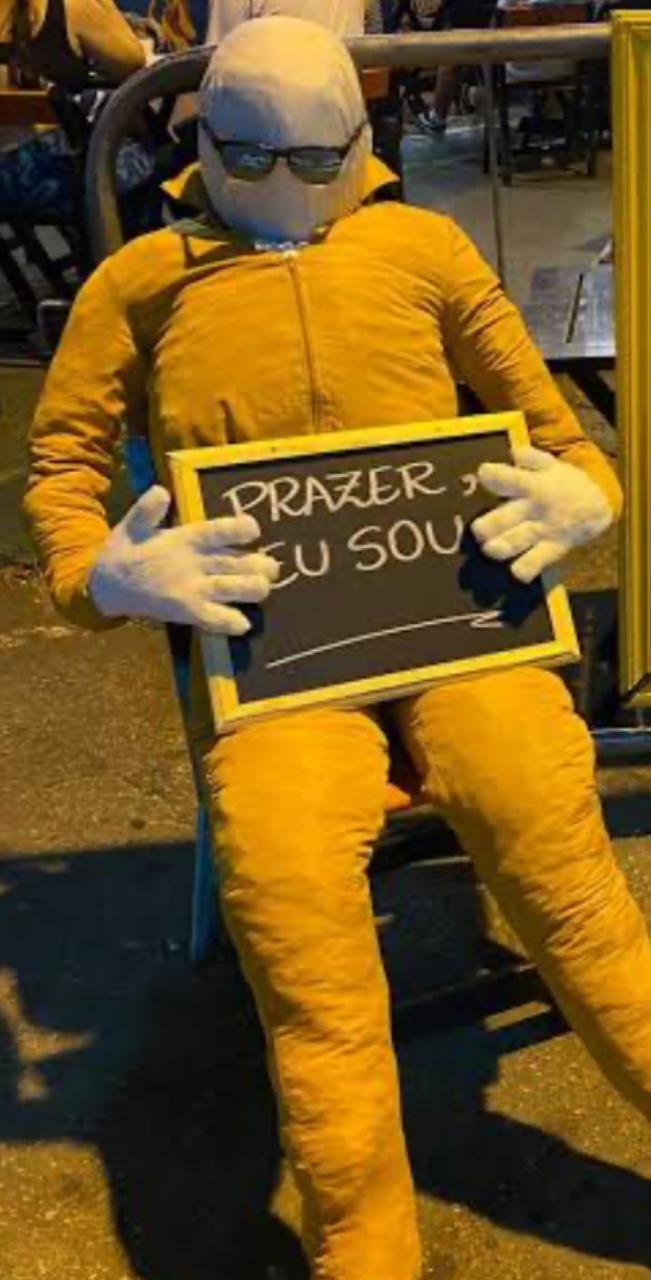Padre João Medeiros Filho
No Ocidente, durante o mês de maio, os católicos homenageiam Maria Santíssima. No primeiro domingo, celebra-se Nossa Senhora com a invocação de Mãe dos Homens, um dos oragos mais antigos da Virgem de Nazaré. E no domingo seguinte, festejam-se as mães terrenas.
Na primavera europeia, quando as flores desabrocham, quis a Igreja comemorar a beleza da existência humana na pessoa de Maria e de nossas genitoras, “rosas de Deus”, na expressão de Santo Ambrósio, que inspirou a invocação mariana de “Rosa Mística”. A patrística greco-latina é rica em textos e comentários a respeito daquelas que transmitem a vida. Santo Irineu, primeiro bispo de Lyon, as comparou à “face terrena do Divino.” Para São Clemente de Alexandria, elas são “um mimo celeste na terra dos homens.” São João Crisóstomo as denominou “luz de nossos dias, sol de nossas vidas, estrelas de nossas noites e travessias.”
Justa e merecida é a homenagem que se presta a todas as nossas progenitoras, sobretudo no mês dedicado à Virgem Santíssima. É relevante o seu incondicional amor, carinho e doçura, desvelo e dedicação. Reconhece-se a bondade de Deus, ao exaltar a figura daquelas que nos geraram. Participantes do mistério do Criador e de sua clemência, elas encarnam a benevolência divina, orientando nosso destino de criaturas, filhas do Eterno e Absoluto.
É praticamente impossível conseguir descrever o quanto elas são especiais. Dotadas de sensores de alta sensibilidade, não raro, chegam a captar o que não foi dito. Têm um olhar penetrante como as sondas ultrassonográficas de última geração. “Mapeiam o coração de seus filhos e rastreiam marcas de dor e sofrimento, apenas ouvindo o seu timbre de voz e por ele medir a temperatura da alma de seus filhos”, escreveu Padre Gleiber Dantas. Ultrapassam a ciência, pois estão em profunda comunhão com Deus. O próprio Cristo, tendo dispensado bens terrenos, não se privou do colo materno e do sorriso meigo daquela que Ele legou à humanidade para conceder a sua bênção.
No patíbulo da cruz, antes de dar sua vida pela nossa salvação, dissera, olhando para Maria Santíssima: “Mulher, eis o teu Filho.” Depois volta-se para o discípulo amado (João) e exclama: “Eis tua Mãe” (Jo 19, 27).
Deus sabe que um coração materno pode expressar sua ternura. O Papa João Paulo I, iluminado pelo Espírito Santo, afirmara à multidão na Praça de São Pedro: “Deus é Mãe.” Desde o século III, São Cipriano de Cartago, inspirado no profeta Isaías (Is 49, 15), referia-se a Maria Santíssima como “um rosto materno divino, manifestado por Deus ao ser humano.” É esse lado sobrenatural de nossas genitoras que se pretende enaltecer.
Homenageando quem nos gerou, proclama-se a ternura de Deus, invadindo o íntimo de seus filhos. No coração materno, a grandeza do Criador torna-se acessível a todas as criaturas. Sua magnificência e capacidade de amar ou perdoar se encarnaram numa criatura. Nela, o Pai celeste quis legar um sacramento universal de seu Amor. Concretizou o seu plano de misericórdia no coração materno.
A celebração do Domingo das Mães é o memorial da sublimidade da vida. Lembrança da suprema beleza eterna, que Deus reserva a seus filhos. Não poderia faltar no calendário uma data do reconhecimento de alguém, que participa do mistério da bondade suprema. As mitologias greco-romanas e orientais apresentam deusas-mães. O cristianismo dá-nos uma Mãe celestial e uma terrena a fim de nos acompanhar em todos os momentos e dimensões da caminhada terrestre. Mãe é Amor.
E Deus o é em plenitude, como define o evangelista João em uma de suas cartas (1Jo 4, 8). Que Maria venha cobrir com o seu manto sagrado todas aquelas que nos transmitiram o dom da vida, protegendo e abençoando-as. Elas são como uma centelha celeste na existência. Vem-me à lembrança o belo soneto “Mãe”, do poeta sergipano Hermes Fontes: “Teu nome, ó minha mãe, tem o sabor de um cacho de uvas diáfanas, cor de ouro e pérola…Um filho que tem mãe, tem todos os parentes…” Como esquecer as palavras tocantes do bispo São Boaventura: “Nossas progenitoras são os umbrais do afeto eterno!”